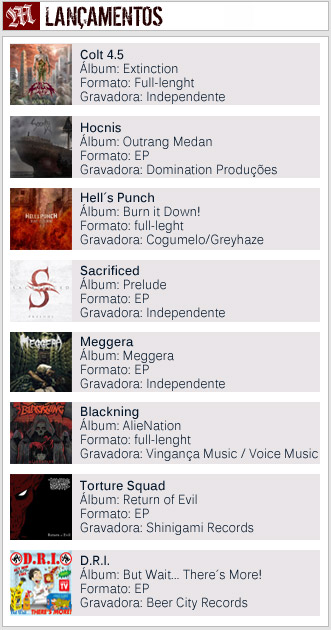Quando comecei a gostar de rock e música pesada, um rolo compressor chamado Nirvana já havia triturado as bandas de metal farofa e estabelecido um novo paradigma musical. Por isso, sempre vi o Guns N’ Roses como uma espécie de monstro do Lago Ness, um dinossauro que de alguma maneira conseguiu evitar a extinção e estava entre nós no mundo moderno, o último remanescente de uma espécie extinta.
Não que isso me importasse. Já que dava o estilo como morto (e ele de fato estava), me preocupei em concentrar meus parcos reais em discos de thrash e heavy metal. Nunca dei alguma atenção para o Guns e seu vocalista de sunga e voz estridente, que achava que jogar uma cadeira de um quarto de hotel era o máximo da subversão. Tinha (e ainda tenho) bandas muito melhores para ouvir e acompanhar.
Portanto, qualquer um pode imaginar qual foi a minha surpresa quando vi não um, mas dois dinossauros ao vivo, na minha frente. Curioso pensar que, quase 20 anos depois do meteoro chamado Nevermind, Kurt Cobain é que está morto e quem ele matou está vivo.
O caos no trânsito era parecido com o de um jogo de futebol. Nem o tradicional atalho pelo Padre Eustáquio e o Caiçara estavam escapando no engarrafamento infernal. “64.800″, pensei, invocando o número mágico que indica a atual (e pífia) capacidade máxima do Mineirão e, fatalmente, um inferno de carros até o estádio. Mas qual não foi minha surpresa quando, depois de passar por duas batidas, o tráfego fluiu e eu cheguei ao Mineirinho sem problemas.
Devidamente credenciado, entrei no ginásio, que, ao contrário do que a pequena aglomeração na porta sugeria, estava lotado. Bem mais cheio que o Iron Maiden, para citar um show recente no mesmo lugar. O calor que imperava foi como um abraço gordo: úmido, denso, pesado. O desconforto é nítido e evidente, e fica a torcida para que na Copa, façam um favor para Belo Horizonte e derrubem o ginásio. Vai ficar menos pior, vai queimar menos o filme da cidade.
Após a banda Uberro (esforçada, mas deslocada no evento), entrou no palco Sebastian Bach, ex-vocalista de uma banda de glam metal que não sobreviveu ao meteoro do grunge. Acompanhado do tio Chico da Família Addams em uma guitarra e de um membro perdido dos Hanson na outra, ele batia a cabeça e rodava o fio do microfone de maneira sincronizada. Tenho que dar o braço a torcer. Foi uma das coisas mais legais do show inteiro, junto dos fogos de artifício e da guitarra sem trastes de um sósia do Ritchie Sambora que está no Guns.
A sensação de estar numa máquina do tempo, de volta à 1989, iria me acompanhar até os acordes de My way, de Frank Sinatra, que anunciaram o fim do show do Guns, que subiu ao palco liderada por um senhor de meia idade. Se arrastando, parecia uma paródia de si mesmo. A tenebrosa acústica atrapalhou pouco. As músicas de Chinese democracy, o disco-que-nunca-ia-sair-mas-acabou-saindo atrapalharam muito mais. Se no disco elas já eram ruins, ao vivo, elas eram piores ainda. Enquanto eram executadas, pensamentos disconexos sobre meio ambiente, macroeconomia, a possível existência de vida em outros planetas e o novo episódio de Lost faziam o favor de me entreter, já que, se dependesse das tais músicas novas, estaria ferrado.
Tal como uma montanha-russa, o Guns alternava clássicos e porcarias, entremeados por solos intermináveis. Os altos e baixos chegavam a dar vertigem, enquanto me sentia vendo um diorama de um museu americano: homem-das-cavernas, idade média, descobrimentos, era vitoriana, Guns N’ Roses. Como toda representação, não era exatamente a História que estava na minha frente. Faltavam alguns músicos e muita rebeldia. Quem era fã, gostou e saiu satisfeito. Quem não era, não virou com o show. Fica para a próxima.